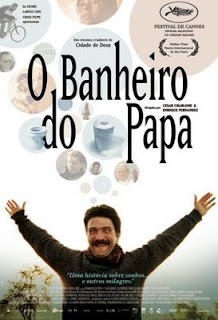Filme adapta para as telas mais um livro escrito por Chico Buarque
Eduardo Viveiros/Omelete
Na sua carreira musical, o grande charme de Chico Buarque é a soma de suas composições com sua voz. As canções são construídas para seus maneirismos, seu sotaque e sua cadência característica de cantor. Por isso é tão difícil versionar com um bocadinho de originalidade uma de suas músicas. Ainda assim, muita gente tenta.
Por outro lado, na literatura, a fala do escritor Chico Buarque fica escondida nas entrelinhas. Os fãs mais ferrenhos juram que ouvem, mas a prosa do cantor/escritor não é do tipo para ser acompanhada pelo violão. E ele, prosador esforçado, tenta se camuflar por trás dos personagens atormentados de suas histórias. Nem por isso, porém, é menos difícil a readaptação de seus livros para outras "vozes".
E, novamente, as tentativas estão sempre por aí. Budapeste é o terceiro livro de Chico a chegar aos cinemas - Estorvo e Benjamin foram os anteriores; Leite derramado, seu mais recente, não deve demorar.
Em comum entre todos, além do autor que garante a primeira página de todos os jornais, fica o desafio de mastigar as divagações quase febris de Chico para a tela. E a equipe de Budapeste - liderada pela produtora Rita Buzzar, que encomendou Walter Carvalho para a direção - não saiu ilesa desse processo.
A sinopse do livro/filme é o que menos importa. A história é conduzida por José Costa (Leonardo Medeiros), grande mas anônimo ghost writer carioca, que vai parar na capital húngara por acidente de percurso. No decorrer da trama, se apaixona pela cidade, pela sua intérprete/professora Kriska (a bela "nativa" Gabriella Hámori), pela língua dos húngaros e pela possibilidade de trocar a vida e a mulher daqui pelas de acolá.
Até então apenas uma história de amor, se não fosse recheada pelos subtextos do livro original, sua verdadeira graça. No Budapeste original, Chico criou um conto sobre ligações afetivas mais profundas, do brasileiro Costa com seu idioma materno, sua nacionalidade original e um novo ufanismo postiço que desenvolve. Mais que a busca por um final feliz, o tema da história é um exílio perdido no tempo.
E é aí que o Budapeste dos cinemas se embanana. A adaptacão do texto não é cem por cento fiel, e nem poderia ser. O texto de Chico costuma ser mais abstrato que palpável e acaba se diluindo facilmente na vida real. Mas no esforço de mastigar o livro para a audiência, cortam-se tantas arestas que dão graça e densidade à história que o que restou fica órfão.
No final das contas, acaba saindo uma cerca viva podada demais - todos os arbustos no seu devido lugar, mas com uma ordenação meio sem graça. Como a confusão de identidades de Costa, que confunde o leitor mas passa de forma batida no espectador. Ou a linearidade narrativa, que vai e vem rapidamente no livro, mas na tela é quase comum. Com tanto material disponível, é estranho o preciosismo em criar novas passagens; como a sequência com a estátua do escritor desconhecido, construída para aumentar de forma desnecessária os momentos tétricos do filme.
Mas não se pode entregar toda a obra à forca: Budapeste tem uma boa dose de brilho. Só o fato de ser um longa nacional com legendas já lhe confere ousadia em frente ao mercado interno. E o filme todo é um belo trabalho de equipe, com ótima atuação do casal principal e uma bela fotografia.
Algumas preciosidades do trabalho de Walter Carvalho se sobressaem, principalmente no trabalho com os atores. Leonardo Medeiros passou boa parte do filme lidando com o texto em húngaro, atuando sem saber o que dizia. A língua estrangeira também marca o primeiro encontro dos protagonistas, que vale atenção especial: segundo os produtores, aquele também foi o contato inicial entre os dois atores de línguas opostas.
Essa oposição rende também um exercício rápido de especulação. Um dos pontos fracos do filme é o otimismo próprio do cinema - e do povo - brasileiro que, mesmo disfarçado, acaba sabotando a melancolia da história. Como a cidade tema, que ganha um tom amarelo do narrador. Será que a coisa toda não receberia um viés mais conciso se fosse tocada pela visão húngara da produção? Um pouco de cinismo europeu faria muito bem a Budapeste.